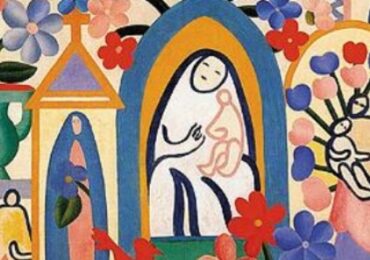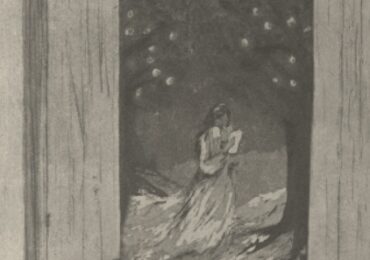A Clorose foi uma doença comum até o fim do século XIX e primeiras décadas do século XX. Atualmente sabe-se que a clorose era muito provavelmente a denominação dada a anemia ou deficiência de ferro. Conhecida ao longo do tempo por diversos nomes como Doença Verde, Doenças das Virgens, Febre Branca ou Febre do Amor, o diagnóstico de clorose ocorre de forma majoritária em mulheres jovens.
O avanço medicinal e tecnológico tornou o termo clorose ultrapassado, mas o registro da doença permanece marcado na história da medicina e em romances e obras literárias.
Histórico e origem da Clorose
O diagnóstico de clorose se fez presente ao longo dos séculos, principalmente na Europa ocidental, nas mais diversas localidades e grupos humanos. Generalizada tanto em países do norte quanto do sul europeu, a Febre Branca podia acometer pessoas de todas as idades. No entanto, a doença ocorria principalmente em mulheres jovens. O termo clorose deriva do termo grego cloros que significa “esverdeado” ou “amarelo esverdeado”1 e se refere ao aspecto que aqueles que sofriam do mal adquiriam. Os principais sintomas do mal eram a palidez, cansaço, dores de cabeça, palpitações e indigestão.
Enquanto doença, a clorose aparece descrita por diferentes profissionais da saúde ao longo dos séculos. Tanto nos escritos de Hipócrates quanto nos de Galeno aparecem menções a homens de rosto pálido chamados “clorosos”. No início da Idade Moderna, a doença aparece descrita pela primeira vez pela pena de Johannes Lange, professor de Heidelber, em seu Epistolarium Medicinalium de 1554. A denominação do mal é então Morbo Virgineo ou enfermidade das virgens. Ambroise Paré é outro que a menciona e propõe sangrias como tratamento.
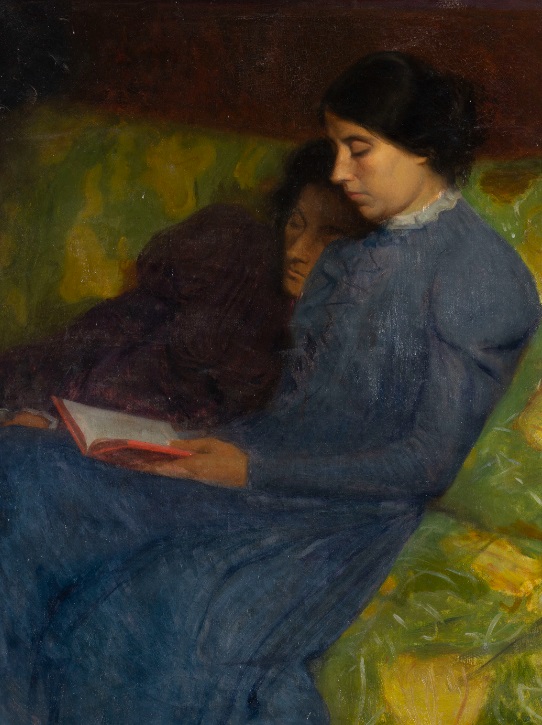
No século seguinte, Jean Varandal, médico em Montpellier, dá o nome de clorose à doença em seu livro De morbis et affectibus mulierum (Das afecções e enfermidades das mulheres) publicado por seus alunos em 1620. Thomas Sydenham descreve a clorose de maneira detalhada e será tido como referência pelos séculos seguintes. Sydenham também promove o tratamento, inovador para a época, com sais de ferro.
Friderich Hoffmann, aprofunda a sistematização da clorose enquanto doença e promove sua difusão na literatura médica ao adicioná-la em seu Medicinae Rationalis Systematicae de 1731. Gregorio Marañón, Paul Oskar e Morawitz então entre outros que escreveram sobre o problema.2

O século XIX, e seus avanços tecnológicos nas áreas da hematologia e microscopia, trouxeram um novo entendimento das causas da clorose. Faedisch, em 1832, reporta que o sangue de pacientes cloróticas apresentava deficiência de ferro. Quase uma década depois, em 1840, Hoefer, demonstra pela primeira vez que o número de eritrócitos no sangue dessas pacientes encontrava-se diminuído e que a própria coloração do fluido era menos intensa que o normal. Em 1889 Georges Haymen demonstrou que na clorose o tamanho dos eritrócitos era comparativamente melhor e conclui que a doença se trata de uma “anemia microcítica-hipocrômica”.
Desde os estudos de Sydenham, o tratamento com ferro havia sido adotado e ao longo do século XIX, a medida se tornou mais frequente. Blaud foi responsável por introduzir pílulas que continham 1.39 g de sulfato ferroso e 0,1 g de carbonato, medida que se mantém similar até os dias de hoje para se tratar anemias. Era indicado também, por exemplo, o consumo de água de mananciais ferruginosos ou “agua de aço”, preparada a partir de lascas de ferro fervidas em vinho branco.3
Sedentarismo e Sangrias: Causas da Clorose
Atualmente a maior parte dos estudos dedicados ao tema relaciona a clorose à uma alimentação deficiente ou desequilibrada que acarreta, por sua vez, uma gestão insuficiente de ferro. Parasitoses intestinais também são possíveis causas. Em sua própria época, porém, nunca se chegou a um consenso da real e definitiva fonte de tal problema. Conforme nos aponta Joan Brumberg a clorose, enquanto fenômeno psicossocial “representava toda uma concepção da adolescência feminina em vez de uma simples anemia“4
Brumberg demonstra como os profissionais da saúde dos 1850 em diante, em sua esmagadora homens, tinham diversas explicações para o fenômeno, muitas delas ligadas às expectativas de gênero vigentes na época. Alguns o relacionavam ao confinamento em quartos fechados mal ventilados e pouco iluminados em que muitas garotas das classes médias e altas viviam.5 Numa época em que o trabalho infantil e juvenil era legal e generalizado, garotas da classes trabalhadoras cloróticas desenvolviam o problema devido a má qualidade de suas habitações.
Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do XX, poucas mulheres chegaram às universidades. Aquelas que tivessem acesso ao ensino superior, o diagnóstico seria creditado ao excesso de estudo e falta de exercício ao ar livre.6 A doença, assim, era um dos vários motivos pelos quais as faculdades não deveriam ser frequentadas por mulheres. Doutor Edward Clarke, professor de medicina em Harvard nos anos 1870, afirmava ser contra a educação de nível superior para mulheres acreditava que “o complicado aparato [órgãos sexuais] peculiar às mulheres” precisa de tempo e tranquilidade para se desenvolver, livre do esforço da atividade intelectual.7
A razão pela qual tantas garotas e mulheres eram anêmicas no século XIX é ainda um ponto debatido. Brumberg afirma que a dieta das mulheres vitorianas tendia, por questões culturais, a não inclusão de carne vermelha. Tal fato, aliado a uma ainda parca compreensão das necessidades de ferro, fazia com que a anemia/clorose fosse generalizada. O consumo de carne, se em excesso, “era popularmente relacionado à ninfomania”.8 Em uma época em que esperava-se das mulheres o desempenho do papel de “anjos do lar”, um forte apetite sexual feminino era reprovável.
Assim, “uma dieta que estimulasse a carne e condimentos era recomendada apenas para aquelas garotas cujo desenvolvimento das paixões parecesse, de alguma maneira, “deficiente“.9 Nesse sentido, acreditava-se ainda que a clorose poderia ser provocada pela masturbação, comportamento amplamente reprimido na era vitoriana. Brumberg destaca a orientação médica que exortava as mães a “buscar saber se a doença não podia estar sendo induzida por hábitos secretos” e sugeria que as meninas fossem “vigiadas discretamente” além de serem deixadas sozinhas o mínimo possível.10

Clorose, doença da beleza
Para além de suas causas, que, como vimos, os contemporâneos ligavam a fatores ambientais ou inerentes à condição feminina, a clorose, longe de trazer o estigma que uma serie de outras doenças trazem, era vista como um sinal de beleza e fertilidade. Dessa forma, não estavam presentes apenas expectativas sociais e familiares com relação ao papel das mulheres na compreensão da doença, mas também, os padrões de beleza eurocêntricos da época.
Brumberg cita o médico Jones e sua descrição dos atributos positivos da garota clorotica: “Aquelas mulheres que têm a menor gravidade específica do sangue, e o maior número de irmãos e irmãs são geralmente claras, com a tez bonita rosa ou branca, olhos azuis ou claros, e cabelos belos, com uma boa quantidade de gordura subcutânea. Tais mulheres, eu creio, são prolíficas [férteis] além da média“.11 Brumberg cita ainda um relatório médico no qual a clorose é definida como “a anemia das garotas bonitas”.12 O pesquisador conclui:
“A noção medical da garota clorótica simultaneamente doente, fértil e atraente [está] dentro da estrutura dos vitorianos de sentimentalização das mulheres adoentadas“.13
Dentre as referências literárias à clorose, destaca-se a heroína de Jane Austen, chamada Fanny Price e protagonista de seu controverso Mansfield Park. Segundo Akiko Takei, as várias ocasiões em que a autora mostra a indisposição e o sedentarismo de sua personagem, podem ser lidos como um clássico caso de anemia/clorose.14 Fanny, dessa maneira, tem sua fragilidade ainda mais destacada, não apenas por características como sua timidez e introspecção, mas por sua própria condição física. Dois séculos depois da morte de Jane Austen, vemos a clorose ser mencionada em Confissões de uma Máscara do então estreante, o japonês Yukio Mishima.
Com tons fortemente autobiográficos, suas Confissões tratam principalmente de sua infância e adolescência. Pálido e magro, o protagonista em certa passagem é levado ao médico, em meados da década de 1930, e diagnosticado com anemia. A causa do problema, no entanto, não era clara, ao que o médico declara: “Hum, ancilóstomos são os grandes causadores. Talvez seja esse o caso do menino. É preciso fazer um exame de fezes, viu? Tem também a clorose, mas é muito rara, e além disso, é doença de mulher… “.15
Em um obra onde o autor explora as primeiras vezes que se sentiu atraído romanticamente por outros homens e colegas de escola, a menção à clorose e sua possível feminilidade ganha uma série de implicações.
Fim da Clorose
Joan Brumberg vê no desenvolvimento de uma nova ideia de saúde e bem estar, ocorrido na época da Primeira Guerra Mundial, o fim da clorose enquanto tal.16 Brumberg cita o artigo do médico W. M. Fowler, publicado em 1936 com o título sugestivo de Clorose – um Obituário, como significativo do desaparecimento da doença: “Que doença se compara a clorose ao ter ocupado um lugar tão proeminente na prática médica apenas para então desaparecer espontaneamente enquanto ainda estamos especulando sobre sua etiologia?“.17
Brumberg cita que uma série de mudanças ocorridas no início dos anos 1930 acabaram por dar um fim a clorose: melhora geral da nutrição, a diminuição do preconceito em torno do consumo de carne, o abandono dos corpetes e corseletes além do incentivo crescente para que mulheres praticassem atividade física.
Clair Siddal por sua vez destaca o abandono das sangrias como o principal fator para o fim da clorose. O hábito de se sangrar homens e mulheres vinha desde a antiguidade e chegou até os inícios do século XX. Já Záratea e Jerónimoa apontam para uma maior especificação de diversas doenças como a razão para o fim da clorose. Para além da anemia ferropénica, a clorose era usada para denominar uma série de outros problemas, dentre os quais anorexia, neurose, tuberculose, hipotiroidismo, insuficiência ovariana e insuficiência suprarrenal.18
Artigos relacionados
Vestuário do luto no século XIX
Bibliografia sobre a clorose
BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence. Child Development, Dec., 1982, Vol. 53, No. 6, Early Adolescence (Dec., 1982), pp. 1468-1477. Disponível no Jstor.
SIDDALL, Clair. A. Chlorosis – Etiology Reconsidered. Bulletin of the History of Medicine, SUMMER 1982, Vol. 56, No. 2 (SUMMER 1982), pp. 254-260. Disponível no Jstor.
KING, Helen. Green Sickness: Hippocrates, Galen and the Origins of the “Disease of Virgins”. International Journal of the Classical Tradition, Winter, 1996, Vol. 2, No. 3 (Winter, 1996), pp. 372-387. Disponível no Jstor.
TAKEI, Akiko. “Your complexion is so improved”: A diagnosis of Fanny Price’s “Dis-ease”. Eighteenth-Century Fiction. University of Toronto Press. Volume 17, Number 4, July 2005, pp. 683-700. Aqui.
ZÁRATEA, Cuauhtémoc Matadamas. JERÓNIMOA, Julia M. Hernández. De la clorosis a la anemia por deficiencia de hierro. La evolución histórica de una enfermedad. Revista de la Faculdade de Medicina de la UNAM. Vol. 65, nº 6, noviembre-diciembre 2022. Aqui.
Referências
- ZÁRATEA, Cuauhtémoc Matadamas. JERÓNIMOA, Julia M. Hernández. De la clorosis a la anemia por deficiencia de hierro. La evolución histórica de una enfermedad. Revista de la Faculdade de Medicina de la UNAM. Vol. 65, nº 6, noviembre-diciembre 2022. p. 35. ↩︎
- ZÁRATEA, Cuauhtémoc Matadamas. JERÓNIMOA, Julia M. Hernández. De la clorosis a la anemia por deficiencia de hierro. La evolución histórica de una enfermedad. Revista de la Faculdade de Medicina de la UNAM. Vol. 65, nº 6, noviembre-diciembre 2022. p. 36. ↩︎
- ZÁRATEA, Cuauhtémoc Matadamas. JERÓNIMOA, Julia M. Hernández. De la clorosis a la anemia por deficiencia de hierro. La evolución histórica de una enfermedad. Revista de la Faculdade de Medicina de la UNAM. Vol. 65, nº 6, noviembre-diciembre 2022. p. 41 ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence. Child Development, Dec., 1982, Vol. 53, No. 6, Early Adolescence (Dec., 1982), pp. 1468-1477. p. 1468.
↩︎ - BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence … p. 1470. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence … p. 1470. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence. Child Development, Dec., 1982, Vol. 53, No. 6, Early Adolescence (Dec., 1982), pp. 1468-1477. p. 1471. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence ... p. 1474. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence ... p. 1474. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence ... p. 1471. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence …. p. 1472. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence …. p. 1472. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence …. p. 1472. ↩︎
- TAKEI, Akiko. “Your complexion is so improved”: A diagnosis of Fanny Price’s “Dis-ease”. Eighteenth-Century Fiction. University of Toronto Press. Volume 17, Number 4, July 2005, pp. 683-700. ↩︎
- MISHIMA, Yukio. Confissões de uma máscara. Tradução de Jaqueline Nabeta. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 75. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence …. p. 1475. ↩︎
- BRUMBERG, Joan Jacobc. Chlorotic Girls, 1870-1920: A Historical Perspective on Female Adolescence …. p. 1475. ↩︎
- ZÁRATEA, Cuauhtémoc Matadamas. JERÓNIMOA, Julia M. Hernández. De la clorosis a la anemia por deficiencia de hierro. La evolución histórica de una enfermedad. Revista de la Faculdade de Medicina de la UNAM. Vol. 65, nº 6, noviembre-diciembre 2022. p. 42. ↩︎