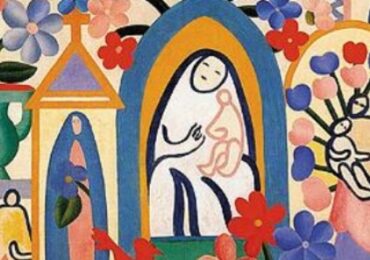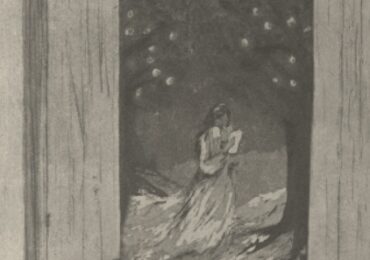O vestuário do luto, tal como se deu ao longo do século XIX não foi um padrão social repentino e absolutamente original. Muitas das regras que veremos a seguir já existiam anteriormente. No entanto, com o passar dos anos e décadas dos 1800, uma série de desenvolvimentos – e mesmo certas inovações – acabaram por singularizar as práticas do luto daquela época.
No século XIX, regras rígidas se firmaram tanto no tocante aos preparativos para enterro bem como no momento posterior de lamento pela perda pessoa falecida, ou seja, o luto. A quebra ou desprezo pelos protocolos sociais estabelecidos para esse período eram motivo de desassossego social, reprovação e escândalo.
Pode-se afirmar de maneira mais ou menos generalizadora, que a expectativa de vida de todas as faixas etárias e classes era marcadamente inferior se compararmos os dias atuais com o século XIX. A mortalidade infantil, por exemplo, era alta. Para crianças menores de um ano, esperava-se que ao menos 3 a cada 20 morressem. Em 1880, mesmo em países europeus mais desenvolvidos como Inglaterra e França, a expectativa de vida era de cerca de 40 anos. Esses dados nos mostram que o luto era uma realidade recorrente na vida de homens e mulheres do século XIX.
Manuais de etiqueta e publicações de sociedade eram um dos meios disponíveis para se saber – e seguir – as regras com relação ao luto. No entanto, como nos lembra a pesquisadora Juliana Schmitt
“As leis do luto […] estavam longe de ser uma ciência exata, apesar de terem um caráter de obrigatoriedade. Dominá-las era um desafio imposto a todos que perdiam um ente querido“.1
Logo após a morte de alguém, era costume que o relógio da casa fosse parado na hora do falecimento daquela pessoa, todos os espelhos fossem cobertos e as cortinas abaixadas. Em uma época em que grande parte das pessoas não se tratavam em hospitais, o mais comum era que elas viessem a falecer também em seus lares. Outro ponto é que, caso o cadáver ainda estivesse na casa, a família não se reunia para as refeições.
Com a invenção e desenvolvimento das primeiras máquinas fotográficas teve início os registros fotográficos post mortem , que se tornaram típicos da época vitoriana mesmo se atualmente tal prática tenha sido abandonada e/ou seja considerada imprópria, mórbida até.
Funerais eram eventos de grande importância e também muito dispendiosos. Tinha-se a expectativa de que um considerável monumento fosse dedicado ao morto. A cor prevalecente – como ainda o é hoje em dia – era o preto. Isso se estendia inclusive aos cavalos usados para transportar o corpo – que deveriam ser pretos – bem como as cordas e outros equipamentos. O cadáver poderia ser vestido com roupas claras e brancas desde que fossem de mulheres e crianças. Aos homens era reservado o preto, cor padrão para a vestimenta masculina tanto na vida quanto na morte.

Vestuário do Luto: Luto Fechado e Meio Luto
Àqueles que haviam perdido alguém, esperava-se que usassem vestimentas pretas. O branco era permitido na roupa de baixo – nunca exposta – e em alguns poucos detalhes como o punhos e o colarinho. Além da cor preta em si esperava-se que os tecidos das roupas fossem simples e sóbrios como o algodão e a lã. Cetim, seda e veludo não deveriam ser usados. No caso das mulheres, o uso do preto era generalizado e deveria se estender para acessórios como lenços e sombrinhas. Todos no mesmo tom e sem ornamentação.
Devia-se abrir mão de joias e adornos. O véu, adereço icônico do luto e símbolo de modéstia, deveria ser usado pelas mulheres todas as vezes que saíssem em público. O véu vitoriano do luto é consideravelmente mais longo – chegando até a cintura – e mais espesso que a maior parte dos véus religiosos contemporâneos.
Essa era a fase conhecida como luto fechado que, para viúvas, durava cerca de dois anos. Eventos sociais deveriam ser evitados tanto por parte das mulheres viúvas quanto por homens viúvos. Isso inclui as visitas e mesmo parentes não deveriam ir à casa de seus familiares enlutados durante a noite, o que poderia indicar jantares e outros divertimentos.
Caso houvesse o casamento de alguém muito próximo a uma mulher em luto fechado, ela poderia comparecer, usar seda e um chapéu com algum adorno discreto. No caso da perda de um filho ou de um dos pais, o luto durava cerca de 10 a 12 meses. A morte de outros membros da família – tios, primos, etc. – traria um período de luto de 1 a 6 meses. De uma forma geral, se seguia a lógica de um luto mais longo quanto mais próximo fosse o ente falecido.
O meio luto era o período que se seguia ao luto fechado. Também chamado de luto aliviado, esse período era dividido em duas partes. A primeira parte do luto aliviado vinha com a reintrodução de algumas poucas joias, fitas e enfeites discretos nos trajes. A seda preta poderia voltar a compor as peças bem como modelagens de vestido um pouco mais elaboradas. Na segunda parte do meio luto ocorria o abandono do véu. Nele também algumas cores podiam ser usadas novamente: tons de cinza escuro, roxo, vermelho escuro.
O branco também poderia ser empregado em conjunto com detalhes e acessórios pretos. Joias discretas eram aceitas, bem como o uso de camafeus com fotos ou mechas do cabelo do falecido, apetrechos conhecidos como memento mori. Aos poucos, a pessoa enlutada poderia voltar a participar da vida social e comparecer a pequenos eventos e jantares, e o vestuário do luto iria assim ser abandonado.
Foi no século XIX que os cemitérios se tornaram locais laicos e mesmo abertos a visitação mais ou menos pública, onde se visitava o jazigo de um familiar ou amigo ou apenas se passeava.
Rainha Vitória, a rainha enlutada
Ícone de sua época, a rainha Vitória deu nome ao próprio século em que viveu e era uma referência em moda, hábitos e tendências de consumo, seguida e imitada por seus súditos bem como por pessoas de todo mundo. Após a morte de seu marido, príncipe Albert, a matriarca seguiu em luto fechado por mais de 3 anos, e o semi-luto pelas 4 décadas seguintes. Acredita-se que foi a partir de sua vivência do luto que teve início a costume de empregados também acompanhassem o luto após a morte de seus senhores.

O Vestuário do Luto no Brasil do século XIX
Nos primeiros séculos da colonização do Brasil, os hábitos funerários seguidos eram basicamente aqueles de Portugal. O falecido, principalmente as mulheres, costumavam ser enterradas de preto, com um crucifixo. A mortalha e o acessório acabavam por compor o hábito de Santa Rita de Cássia, daí a frequência com que inventários e últimos pedidos trazem como o desejo da falecida ser enterrada tal qual santa Rita de Cássia.
São Francisco de Assis e Santo Antônio são outros que usualmente tinham seus trajes imitados na hora da morte.2 O uso da mortalha preta aumenta em toda a população brasileira -livre e escravizada – a partir do século XIX. O que não exclui necessariamente o uso do branco pelo morto, principalmente pelos escravizados e libertos, conforme as crenças e ritos de culturas e religiões africanas. As crianças também podiam ser enterradas de branco – e até mesmo como anjos, trajando asas – costume que atravessou séculos e chegou até nós.
Em fins do século XIX e inicio do século XX a moda e os usos em torno do luto seguiam de perto o que se passava na Europa e, mais especificamente, na França. Com a crescente preocupação e sofisticação social do período de luto vemos o aparecimento no Rio de Janeiro da chamada Casa das Fazendas Pretas em 1872.
O estabelecimento aberto por dois comerciantes, Pedro e Domingos de Siqueira Queiroz, se especializou em roupas e acessórios para o luto e meio luto. Pela quantidade e variedade, a Casa das Fazendas Pretas se expandiu nos anos seguintes e inclusive passou a receber clientes de fora da província.3 Antes dela, outras lojas de roupas tinham seções dedicadas às roupas de luto.
Para auxiliar na melhor escolha para cada período do luto, havia algumas revistas sobre moda e estilo publicadas no Brasil daquele século. Uma delas foi a A Estação, cujo título completo era A Estação: Jornal Illustrado para a Família, tendo sido produzida de 1878 a 1904.
A Estação era um uma das revistas mais populares de sua época. Considerando aqueles que a compravam e aqueles a liam por empréstimo, estima-se que cerca de 100 mil pessoas entravam em contato com seu conteúdo tanto no Rio de Janeiro – onde era feita – quanto nas províncias. Em suas páginas pode-se ver sugestões de tecidos como a lã (dos tipos merinó e cachemira), o crepe inglês ou crespos para a confecção de trajes para o luto.
Lê-se também recomendações com relação ao corte e modelos a serem usados nas diferentes fases do luto. Na Estação também podemos acompanhar a mudança da condição da mulher na virada do século. Já na década de 1890, na coluna Correio da Moda, assinada por Paula Candida, lê-se uma defesa do abandono do véu. O inconveniente do adereço passou a ficar claramente evidente conforme mais e mais mulheres saíram à rua para trabalhar e fazer parte de diversas atividades.
Em um primeiro momento, a colunista afirma que “Não se mede a dor pelo comprimento do véu e a viúva que o usa mais comprido possível, caza-se, a maior parte das vezes, no anno seguinte“.4 Posteriormente, Paula Candida defende a exclusão do item: “para as senhoras que se ocupam muito fora, em negócios, em dar lições, é desnecessário dizer que um véu tocando no chão é de todo impossível para usar constantemente”.5
Não se deve passar despercebido o forte contraste da manifestação do luto entre mulheres e homens. A maior parte das regras aqui explanadas se aplicam mais às mulheres do que aos homens. Esses, por exemplo, uma vez acabado o enterro, deveriam apenas portar a chamada braçadeira de fumo enquanto às mulheres cabia uma série de adaptações do vestuário.
A pesquisadora Juliana Schmitt lança mão das palavras de Lou Taylor para explicitar e explicar tamanha diferença entre homens e mulheres: “essa diferença [no vestuário do luto] é simbólica de toda posição social das mulheres na segunda metade do século XIX. As mulheres eram tratadas, às vezes voluntariamente e até ansiosamente, como peça de exibição, para mostrar a respeitabilidade da família, senso de conformidade e riqueza. (…) O vestuário de luto talvez fosse o veículo mais perfeito para esse propósito.”6
Bibliografia
Todo o artigo foi escrito com base nos estudos da professora Juliana Schmitt referenciados e listados abaixo. Indica-se a leitura deles para qualquer que queira se aprofundar no assunto.
SCHMITT, Juliana. A dor manifesta: vestuário de luto no século XIX. dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 76–80, 2009. Aqui.
SCHMITT, Juliana. O luto nas páginas da revista A Estação: o que vestir, como vestir. Tempo. Niterói. V.27, N.3, Set/Dez. 2020. Aqui.
SCHMITT, Juliana. A Casa das Fazendas Pretas. Anais do Museu Paulista. vol. 29, 2021. Aqui
SCHMITT, Juliana. Vestuário e comportamento de luto no Brasil oitocentista. Aqui.
VIANA, Fausto. A Roupa Fúnebre ou não chore que é para não molhar as asas do anjo. NAVA, v. 1, n. 1, julho/dezembro, 2015, p. 41-65. Aqui
Referências
- SCHMITT, Juliana. O luto nas páginas da revista A Estação: o que vestir, como vestir. Tempo. Niterói. V.27, N.3, Set/Dez. 2020, p. 756. ↩︎
- VIANA, Fausto. A Roupa Fúnebre ou não chore que é para não molhar as asas do anjo. NAVA, v. 1, n. 1, julho/dezembro, 2015, p. 51. ↩︎
- SCHMITT, Juliana. A Casa das Fazendas Pretas. Anais do Museu Paulista. vol. 29, 2021. ↩︎
- SCHMITT, Juliana. Vestuário e comportamento de luto no Brasil oitocentista.13 Colóquio de Moda. Unesp Bauru. 2017. p.12. ↩︎
- SCHMITT, Juliana. O luto nas páginas da revista A Estação… p. 770. ↩︎
- SCHMITT, Juliana. O luto nas páginas da revista A Estação… p. 772. ↩︎